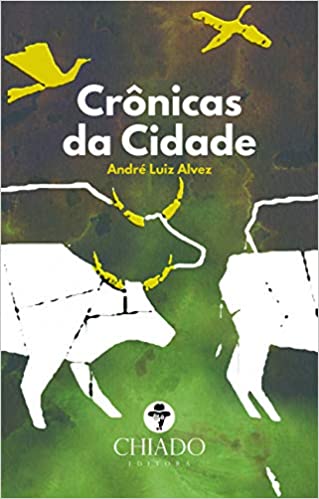CRÔNICA DE UM DIA DISTANTE
Hoje é um típico dia de verão do ano de dois mil e cinquenta. Verão tem coisas que as outras estações não têm. É o tempo que muda de repente, a chuva que cai e logo se vai na enxurrada, transformando o pó em barro. Meus olhos cediços percebem o movimento do tempo, que insiste me contar os casos de ontem. Já vivi mais do que poderia supor, oitenta e cinco anos que hoje completo e até agora ninguém me cumprimentou. Talvez mais tarde, quem sabe. Como sempre acordei cedo e os outros estão dormindo, esticados nas conchas. O sonho de ontem me faz recordar coisas do passado: amigos que se foram, um tucano comendo jatobá. Tucano não existe mais, nem jatobá. O tempo voa e não volta. Uma canção do saudoso Milton Nascimento dizia: “os sonhos não envelhecem”. É verdade, prossigo jovem na ilusão de meus sonhos, nos quais caminho e revejo a cidade quando tinha obelisco e no mercadão as índias vendiam sopa paraguaia. Um leve tremor me percorre todas as vezes que estaciono os olhos num determinado lugar, que é branco, cinza, nem sei. Será o fim que se aproxima? Existirá um fim? Deus existe? Religiosos ainda brigam, cada um defendendo seu Deus. Insistem por um lugar no céu, enquanto outros, como eu, esperam que Ele se mostre entre nuvens douradas e diga: “aqui estou, parem de brigar!”. Nem tudo foi melhor que agora, a substituição dos políticos por computadores, por exemplo, foi um grande avanço. A máquina é mais justa que os homens, não roubam, não se locupletam. Aos poucos os de casa despertam. Minha neta estranha que eu continue digitando no computador e se mostra assombrada quando encontra um dos livros da minha coleção. Papel é para ela algo muito estranho e, desatinada, desconhece Gabo e Rubem Braga. Que pena. Fica sobrevoando em volta de mim com seu tênis planador, às vezes balançando a cabeça, como se estivesse diante de um museu ambulante. Sei que meu modo de vestir; calça jeans, camiseta e tênis, é para ela coisa de gente velha, mas por mais que insista, jamais usarei suas roupas de acrílico. As pessoas precisam entender que eu sou de muito antes do terremoto. Uma luz piscou e não sei se é real. Às vezes confundo o concreto com o virtual, não uso nature sensation porque prefiro ir até a montanha para sentir o cheiro da cânfora e insisto ignorar o tal transmutador: entrar numa caixa e sair do outro lado do mundo, não me causa sossego. Outro neto se aproxima e me faz um carinho. A irmã se junta a ele e no aperto de um botão se ligam ao mundo que surge na parede, fazendo com que figuras adentrem a nossa casa e misture de vez o real com o virtual. Fico quieto, abraçando o passado, sedento em lhes mostrar que o dia já foi mais azul e a noite mais estrelada, porque o céu de hoje sente falta das estrelas que morreram e dos passarinhos de antes, mas eles não escutam os gritos do meu silêncio, prosseguem tateando o nada, sequer desconfiam que eu já vi um tucano comer jatobá.