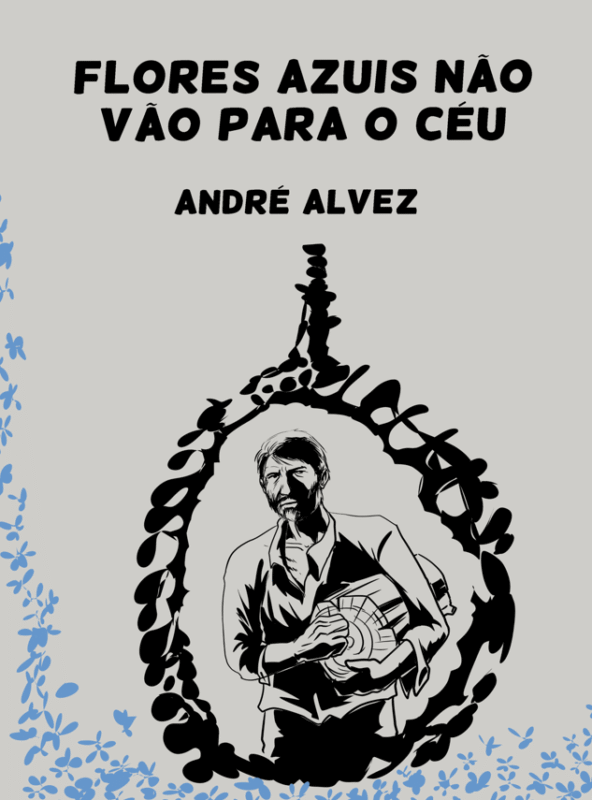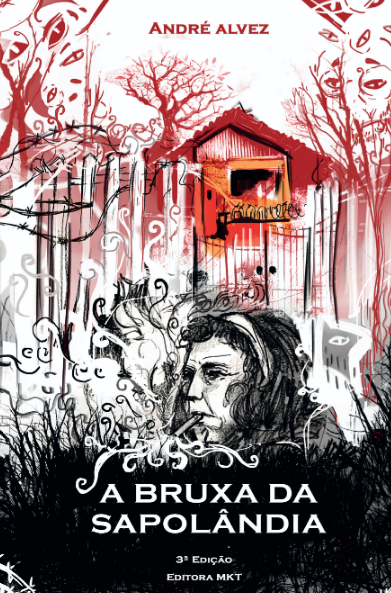Do começo, guardo restos do pó daquele chão.
Era um quintal grande, um pé de Araticum na frente, bem próximo ao portão de madeira, barulhento e sem trinca.
No canto esquerdo, um enorme tronco de árvore, esticado, polido pelo tempo, onde minha avó batia a roupa e depois passava o sabão misturado com anil, combinando tudo com o azul das farpas da escova.
“Meu quintal é maior do que o mundo”, dizia Manoel de Barros. O meu quintal era bem menor e tinha medo do resto do mundo.
No centro, erguia-se o pé de manga e foi debaixo da sua sombra que notei os primeiros detalhes. Do graveto fiz lança e com ela passava horas futucando o chão, desencravando segredos, desvendando mistérios.
O maribondo do zumbido metálico não fazia buraco no chão à toa; era sua toca ou esconderijo, nunca soube ao certo.
Em dias secos, o vento formava redemoinho, e a gente se afastava ligeiro, porque diziam os antigos que o capeta estava no centro do redemoinho e bastava jogar um dente de alho que o bicho aparecia enfurecido.
Outro bicho estranho juntava pequenos gravetos, misturava com uma espécie de gosma e deixava grudado nos troncos das árvores. “Não mexa no casulo – alertava minha mãe – senão, pode matar a borboleta”.
Dentro do casulo, dormia um bicho feio e disso sei por que retirei um lá de dentro com ajuda do graveto. A luz do sol secou o bicho. “Era para ser uma linda borboleta” – bronqueou minha avó – e eu, num remorso sem perdão, passei noites mal dormidas.
O que uma borboleta fazia dentro daquele escafuncho?
Tempos depois, diante do imenso jardim florido, notei a ausência dos casulos, trocados pelo vôo colorido das borboletas.
Descobri então o espetáculo da metamorfose.
Na minha habitual inquietude, absorto diante das borboletas, procurei algum defeito e logo o encontrei, já armando no rosto um riso travesso: são lindas, mas não cantam como as cigarras.
A paróquia ficava na esquina de casa e o padre aparecia de vez em quando, arrastando o portão, jogando água benzida pelos cantos, e então começou o meu medo de padre.
E o vento soprava tudo.
O pedaço de folha que se mexia, olhando de perto, era gafanhoto, às dezenas, num confronto de luzes com os besouros da couraça de brilho negro metálico.
Deus caprichou quando poliu os besouros.
No outono, as frutas caiam ao chão. Dentro da manga verde existia um pedaço branco semelhante a um bebê; fiz o parto, retirei o caroço, costurei com fios de cipó e deixei ao sol. Após alguns dias, a manga estava amarela e logo depois apodreceu, restando em mim o pavor de ter feito algo sem cura.
A nossa velha casa de madeira não tinha porão, mas foi lá que escondi os meus fantasmas.
Em um dia cinza, o sino da igreja badalou várias vezes num timbre triste. Minha avó tentou abafar o som do sino: “Deve ter morrido alguém” – Naqueles tempos, era muito difícil morrer alguém – “Quando morremos, viramos estrelas no céu”, ela disse e depois sorriu um riso de certeza.
Foi então que passei a notar as estrelas no céu.
O filho do vizinho era o responsável por tocar o sino da paróquia. Tinha o caminhar altivo e um olhar superior. Nunca entendi aquilo. Só porque tocava o sino? Marcos fazia pandorgas e para mim ele era infinitamente mais importante do que um reles tocador de sino.
Certa vez, ouvi um homem falar que qualquer um seria rico se encontrasse petróleo cavoucando o chão do quintal. Furei vários buracos, mas só encontrei formigas.
Elas me ensinaram que ser rico não era tão importante.
Marcos gostava de brincar de mágico: jogava um prego enferrujado num canto e o fazia mover com as mãos à distância.
Espantado, imaginei meu tio quase irmão dotado de poderes sobrenaturais.
No andar do tempo, fui registrando e ainda guardo na cabeça vários detalhes do antigo quintal: Beija-flor não picava a cachopa de maribondo, abelha não pousava na comida, sapo tinha medo de sal e inseto nenhum se atrevia atravessar o galinheiro.
Tempos depois, descobri que o Marcos não tinha nada de mágico, só era esperto, já sabia que o imã atraia o prego e o resto era teatro.
Ontem passeei pelo bairro, fixei os olhos no mesmo lugar onde antes havia o quintal e uma dor de saudade me apanhou diante do prédio enorme tapando o passado.
Restaram as estrelas, entre tantas, as duas que cuido com absoluto carinho, elas se chamam Marcos e Aurora e, mesmo no céu, ainda moram no nosso antigo quintal.