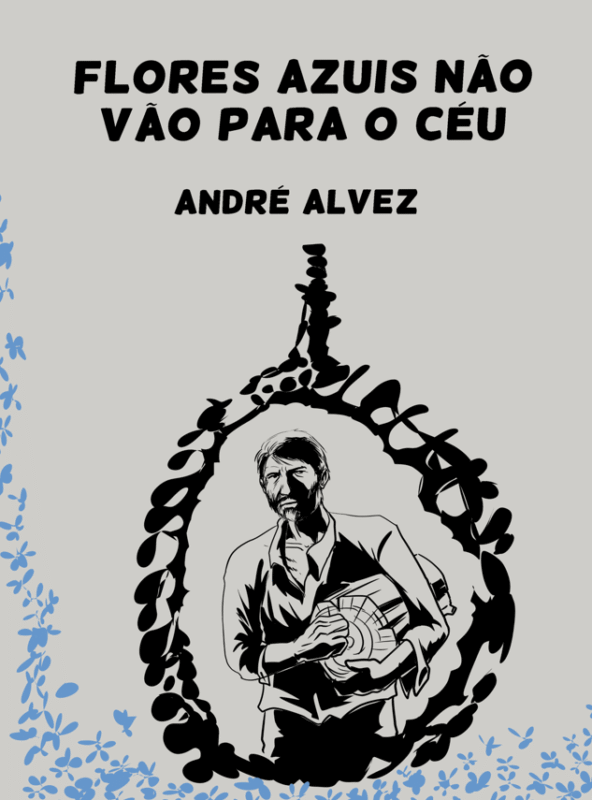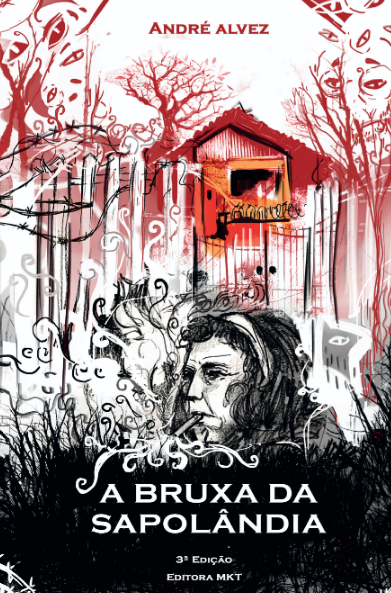Eu queria escrever uma crônica linda, tão linda que alguém poderia supor ser um texto do Rubem Braga.
Presunção à parte, crônica só se escreve depois de enxergar o ar, quando os movimentos das ruas ou os ventos do passado nos mostram os encantos do dia.
Debrucei meus olhos lá fora e só encontrei frases soltas, indignas do Pirandello vendendo água no sinal fechado.
O que fazer quando a inspiração não se mostra em forma de crônica? Contar um conto, ora.
Pois bem, passeia na minha cabeça uma historinha que bem vale um conto. Ei-lo:
Entre as nuvens do céu cinzento, um facho de luz escapou indo iluminar a cabeça do menino que um dia seria poeta.
Somente ele notou a luz afagando seus cabelos e tentou apanhá-la com as mãos.
Depois sorriu, correndo se juntar aos outros meninos no sossego de soltar pandorgas.
O pequeno poeta vivia numa casa rosada, entre a cidade e a mata, bem ao meio.
Na estação dos ventos, foi quando começou a sonhar acordado, no instante sublime que o vento assoprou com força as folhas e derrubou as sementes. O homem não percebeu quando ele anotou os detalhes: eram diversos coelhos e olhavam para o topo do prédio distante, armados num brilho nos olhos vermelhos, como quem enxerga uma luz de pedra.
Apenas um deles restou ao fim do dia, exatamente o coelho diferente, das orelhas brancas e dos olhos mais brilhantes.
Após o frio, veio o primeiro dia da estação colorida, e o brilho das cores desenhou a coragem no coração do coelho.
À noite, os vagalumes iluminaram a escuridão e apontaram os perigos do chão úmido pelo sereno que caía.
O coelho chafurdou até encontrar a semente que julgou ideal e danou a saltitar para fora da mata, sem se preocupar com os perigos dos primeiros raios do sol.
O Homem não percebeu quando ele atravessou as avenidas da grande cidade, indo de encontro ao prédio que lhe gastava as vistas.
O homem sequer desconfiou quando o bicho escalou a parede de concreto até o pico.
A visão era larga, mas coelhos enxergam longe e ele logo percebeu, no exato local onde o sol batia, um punhado de terra esquecido na construção. Então cavucou ligeiro e jogou a semente.
Depois suspirou um respiro acelerado de coelho e tapou o buraco, enxugando por fim o suor do triunfo acima dos seus olhos vermelhos. Contemplou o feito numa euforia de raposa e só não sorriu porque coelhos não sabem sorrir.
O homem não percebeu quando ele retornou para a mata e lá se enfiou tentando abafar o acelerado medo de bicho.
Na estação do sol, o menino poeta sentiu um cheiro diferente no ar, mas engoliu a estranheza, capturado pelos gritos escapando dos becos.
Era uma turba de loucos que enxergaram no fundo da mata um vão de espaço no qual caberia um edifício.
Não pensaram, os loucos não pensam, apenas sonham, fazem da utopia um refúgio do abstrato.
O menino olhou os loucos se afastando; contou cada tijolo, os sacos de cimentos e o amontoado de areia que eles carregavam numa euforia insana.
Amarrados em seus insípidos cordões, os homens nada perceberam.
Os poetas, os loucos e os coelhos se entenderam num ritual de cumplicidade.
E vieram as outras estações.
Os loucos ergueram em meio à mata um enorme edifício e por lá se enfiaram, engalfinhados num cante de risos alucinantes.
Os homens não perceberam o cântico dos loucos, nem a trilha dos coelhos rumando até as paredes do enorme edifício.
O menino que seria um poeta já era rapaz, não soltava mais pandorgas, carregava enfiado no braço um caderno no qual tudo anotava.
E veio a nova estação e com ela os sinais no céu que os homens não perceberam.
Em meio à mata, entre árvores frondosas, o edifício de concreto rutilava entre as galhadas.
O poeta fez da folha do caderno a última pandorga; soltou a linha o máximo que pode e então, diante de seus olhos encantados, o vento soprou a pandorga de um lado para o outro, mostrando a utopia enfim desterrada, a árvore acima do edifício e o edifício erguido em meio à mata.
E o sino tocou juntando o riso do poeta e aborrecendo os demônios.
Se o homem não perceber, todo sonho é possível.
Loja Virtual
Busca
Está com dificuldades para encontrar? Utilize os filtros abaixo para aprimorar a sua busca.