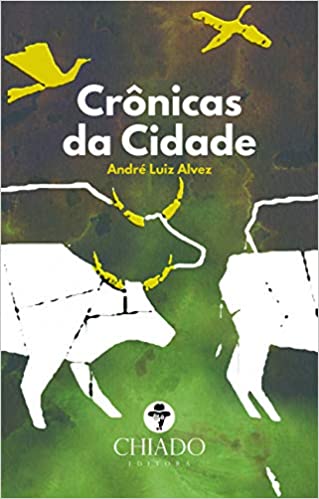MUITO ANTES DOS IPÊS
Do alto da última esquina da vila Planalto, contemplo a cidade. Sinto desejo de escrever um texto que faça o leitor imaginar: esse cara é de Campo Grande. Hoje o ipê é símbolo da cidade, mas nem sempre foi assim. Sou de uma cidade de outrora, aquela que o céu se via cortado nos finais da tarde pelo vôo das andorinhas, era conhecida por cidade morena e que teve início a partir do cruzamento entre dois córregos, o Segredo e o Prosa. Acredito que o mineiro de nome Pereira, se viu dominado pelo desejo de ouvir uma prosa assim que bebeu da água gelada que descia entre os mananciais. Enfeitiçado, resolveu guardar segredo e por aqui ficou para sempre. A cidade pequena foi crescendo, embalada pelos trilhos do trem que não existem mais. O que hoje é asfalto conheci em trilheiros, matas, terra batida e não consigo, nem naquelas mil horas que duram os instantes em que passeiam os pensamentos, encontrar um único ipê. Mas o barro moreno, sempre está por ali. Na entrada do quintal da nossa casa, havia um imenso pé de ariticum, que não resistiu ao balanço de corda que nele amarramos e na queda, quebrei meu pé. Sai gritando rumo à rua da frente, que nem sabia que se chamava Bandeirantes, ainda coberta de poeira e que logo depois, vi aos poucos se desnudar, amassada por patrolas, sendo coberta pelo piche, cujo cheiro, inconfundível, ainda navega nas minhas narinas. Hoje a cidade é um vai e vem enlouquecido de gente, concretos e veículos, mas o aroma de cidade do interior ainda emana por aqui. Sinto esse cheiro quando abro a janela do carro e o ar me invade, degusto o sabor da guavira temperada com mato molhado, de terreno recém carpido, o capim que mostra a raiz na qual me agarrei para sempre. Qualquer um pode morar em Campo Grande, mas somente aqueles que aqui nasceram e os que por ela foram adotados, podem sentir o aroma poderoso que escapa da sua terra vermelha. É um jeito estranho, reconheço, de discernir o concreto de hoje com o que antes era mata e chão. O progresso cobriu a pequena guarida de antes, trouxe o fluxo incessante do trânsito, que corre como uma artéria aberta, determinando o fim da calma onde antes reinava o silêncio e os sons se confundem, ganham vida na forma de malabares com sotaque castelhano, que avançam nos sinais de trânsito e recolhem nos chapeis suados as moedas de sobrevida que o povo oferece, ignorando completamente o cheiro da terra, da minha Campo Grande, sorrindo para mim sem desconfiar que naquele cruzamento existia antes um relógio, que parou em contra-ponto ao tempo, que passou e nem percebemos. E logo surge outro ipê florido num azul desconcertante. Gosto do colorido dos ipês e admito o progresso em forma de concreto. Apenas me rendo às vezes ao irresistível chamado da nostalgia, que navega pelo antes, atravessando num silêncio solene o atropelo das ruas, até rever aquele céu coberto de andorinhas, aquele de antes, de bem antes dos pés de ipês.