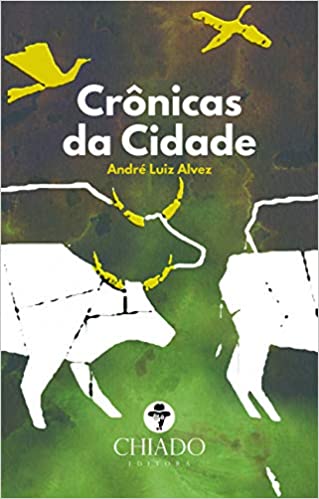O vento assopra o tempo
Tenho uma relação muita próxima com o tempo, como se ele fosse aquele amigo inseparável, do tipo briguento, invisível, porém presente, parceiro, quase inseparável. Penso que o vento conduz o tempo, passa assoprando, trazendo tudo de volta. Gosto de me definir como cronista, porque é na crônica que posso evocar a presença desse amigo antigo. E ele chega de repente, montado na brisa e basta fechar os olhos para enxergá-lo melhor. O tempo não precisa de luz, precisa de sentimento. Já perdi a conta das peças causadas por esse amigo em forma de dúvidas sem fim: como era o nome daquele professor de geografia? Qual cemitério está enterrada a Aparecida? A Maria sem troco era de Coxim? Tento escrever algo sobre coisas atuais, dessa briga insana que vemos sempre no noticiário, dar minha opinião sobre algum assunto importante. Fico postado diante do espelho, recolhendo ideias, me transformo num repórter da TV, daqueles antigos, cabelo engomado, terno, lenço na lapela.Ameaço a imagem: não me venha com perguntas difíceis, nada responderei de concreto, algo do tipo: “o que você acha do aborto?”, não tenho opinião formada, às vezes penso que sim, às vezes acho que não. Maria sem troco era de Rochedo, assopra o vento no meu ouvido. Ontem já é passado, mas é apenas um ventinho, posso apanhá-lo pela mão, até o exato instante que me aproximei do sujeito barbudo na prateleira do mercado. Pena, não posso mais comer marron glacé, mas o barbudo pode, ele apanha logo duas latas, joga no carrinho e sai assoviando uma antiga canção. Que canção é aquela? Apanho o doce de banana sem açúcar e sorrio da minha desdita: onde já se viu doce sem açúcar? Aparecida morreu de AIDS, tinha só trinta anos e eu ainda me recordo com exatidão da sua risada, do brilho dos cabelos – negros como a noite sem luar – e da vez que ela saiu em desabalada carreira após confessar que gostava de mim. Tínhamos apenas doze anos e nos bastava a inocência do sorriso. Saudades. Vamos tempo, dê um tempo, me deixe falar sobre coisas atuais: sensacional o cara que inventou o pen-drive. Certamente é japonês o fabuloso inventor. O mundo pode ser guardado num pen-drive e tenho absoluta certeza que outro japonês genial irá inventar algo ainda mais incrível, talvez uma tela diante dos olhos, daquelas com cortinas se abrindo ao simples digitar de uma senha, mostrando o mundo paralelo; por lá, surgem pessoas queridas que já morreram, caminhando sem perigo, sorrindo, armadas de um leve aceno, passeio sem voz – as paredes que separam as dimensões impedem a propagação do som – numa espécie de paraíso. Pensando bem, não seria tão genial assim, alguém iria propor quebrar todas as regras, abrir passagem a tiros de metralhadora, afinal, menos os pecadores, todos temos o direito de morar no paraíso. Não existe pecado na mente de cada um. O vento sopra, o tempo me alerta, talvez a tal cortina pudesse mostrar o passado… Seria maravilhoso, mas não quero mesmo falar do passado, mesmo agora que me recordei da canção assoviada pelo barbudo, não lembro o nome, mas sei que é do Guilherme Arantes. Como envelheceu o Guilherme Arantes! Agora, parece um senhor. Ah, mas que bobagem, me alerta o vento, ele é de fato um senhor, tem quase setenta anos, embora o tempo insista sopra na minha cabeça a imagem dele ainda moço, cabelos encaracolados jogados ao vento, tocando piano e cantando “Planeta água”. Tempo, você é tão cruel… Algo atual me ocorre, mas me calo, evito comentar sobre as reuniões familiares, na verdade, um encontro de tablets e smartfones. Então apago tudo e fico prestando atenção na porta que dá acesso à varanda, lá fora o vento sopra livremente e eu sei sobre o tempo, sobre o vento, alguma coisa da brisa, mas nada sei sobre o suspiro, esse que escapou agora da minha alma; dor aguda, saudades do ontem. Sou salvo pelo canto do pássaro lá de fora, calando a voz do vento e devorando o passado.