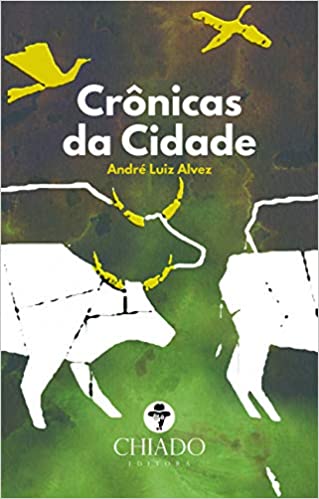19 de maio de 2017
Há tempos não me ocorria dormir acordado, largado no pensamento, num trotar de imagens.
A moça à minha frente tem um piercing no septo. .
Peço um chope, ela nem olha para mim, pergunta a marca, digo Brahma, “não tem”, responde num jeito quase hostil; peço outra qualquer, ela prossegue sem olhar para mim.
Aquelas argolas no nariz me causam má impressão, fazem lembrar o mitológico minotauro. .
Quando por fim me passa a caneca, ergue os olhos e pergunta: “o senhor deseja mais alguma coisa?”. .
Então larguei os meus olhos abertos e a boca sorrindo enquanto o mundo apagava. .
Diante daqueles olhos miúdos e tristes, permiti milhares de desejos no pequeno segundo transformado em horas de pensamentos, sonhando com os olhos abertos, absorto na última pergunta: “deseja mais alguma coisa?”. .
Sim, querida desconhecida do nariz furado, desejo viajar para Paris, conhecer os Pirineus, entrar de manhã numa livraria e só sair de lá tarde da noite, sem me preocupar com o horário.
A cura do câncer, a paz entre os homens.
Desejo também nunca mais ter que dirigir, o trânsito me enlouquece, nem votar, desperdício de tempo, e que essa maldita dor nas costas desapareça para sempre.
Permita-me ainda desejar ganhar alguns milhares de dinheiro, dos quais ficaria com a metade, o resto distribuiria entre os mais pobres (será?) e daria as migalhas aos pombos. .
Um desejo bastante pessoal me ocorre, não que me faça falta (será?), mas gostaria se meus cabelos tornassem a nascer.
Sim, eu desejo ser cabeludo.
Também gostaria de ser invisível, não para sumir, mas para suprir um desejo de infância, bisbilhotar as outras pessoas sem ser visto.
Outro desejo me consome, aquele de ver o sorriso da pessoa lendo essa crônica e pensando: “nossa, eu também desejo isso”.
Faço sinal com o dedo e a moça do piercing já sabe que desejo mais um chope.
E os pensamentos prosseguem num desesperado trotar; eu desejo assistir ao show do Paul MacCartney, também do Chico Buarque, já que o do Belchior não vai dar mais. Desejo ainda o deslumbre do encontro com outros ídolos, apenas para um abraço ligeiro: olá Caetano, você é lindo, Ney que bom você existir, eu te adoro Gil, não faz idéia, Djavan, o quanto me faz bem, desde quando aprendi a sonhar o seu sonho.
Continuei sorrindo calado para a moça do piercing no septo e ela já começava a se inquietar, os olhos, antes miúdos e tristes, agora sobressaltados em alerta.
“Quer com colarinho”, faço um gesto afirmativo com a cabeça, enquanto meus olhos se perdem entre os brilhos que escapam do piercing
A espuma do chope escorrega pelos cantos dos meus lábios no exato momento que a idéia da eterna juventude explode nos meus miolos. Ah, seu eu pudesse voltar aos vinte anos com a maturidade que hoje tenho…
Imaginar desejos é beber um balde de água salgada: a sede nunca é saciada.
Lavo meus pés na enxurrada de desejos; Comidas venham, eu as desejo, costela de porco assada, pudim, sorvete de coco.
Sinto enlevo, sonhar é preciso e precioso.
Prossigo naquele tropel de pensamentos, ameaço um novo sorriso, mas recuo ao perceber que a moça arregala ainda mais os olhos, convencida de vez que eu não regulo bem das idéias, lava ligeira os copos, desconhece por completo meu novo pensamento: será dolorido colocar um piercing no septo?
Bebo tudo de uma vez e sem querer, bato com a caneca no balcão.
“Deseja mais um chope, senhor?”
Não, por hoje chega, respondi preocupado: quanto tempo irá durar esse tropel de desejos a desfilar na minha cabeça?
No fim, desejo nada mais desejar…