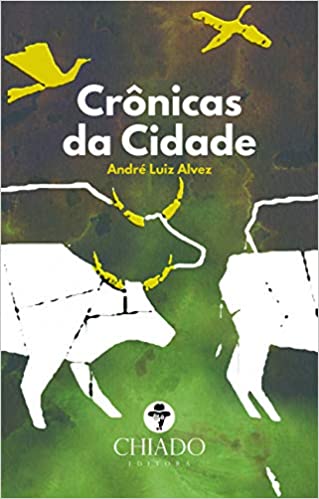Cabeça de boi
Cair da tarde de um dia frio.
Olhando de cima, entre as telhas de barro do Cabreúva, a cidade vai perdendo a cor, invadida aos poucos pela escuridão da noite.
Fins de dias de outono me causam uma batida rápida de melancolia.Esfrego os olhos e sigo andando.
Um bando de meninos fuma maconha, nem liga para o meu passar ligeiro.
Pedaços de trilhos da antiga estrada de ferro brotam do chão, somem depois, invadidos pelo progresso.
Sinto cheiro do passado sempre que ando pela Orla. Naqueles trilhos sepultados pela grama, percorre uma parte de mim que insisto desconhecer. Meu avô morreu logo ali na frente, morte estranha, atropelado pela litorina, num dia de carnaval e chuva.
Pouco conheci o meu pai, que direi do meu avô, que dele só sei essa história?
Dos fundos do Colégio Estadual um casal se aproxima de mim, que paro com um sorriso armado no rosto, contente pelo breve descanso.
Os dois chegam bem perto, os olhos tão azuis que cegam.
A moça fala um francês ligeiro e eu balanço a cabeça. Inglês até arranho, mas nada compreendo do idioma de Sartre. Não é lindo falar fazendo biquinho? Como esse povo consegue ser tão bonito?
O rapaz arrisca num portunhol frases desconexas, “cabeça de boi”, foi a única que compreendi.
Eu sou nascido e criado em Campo Grande, claro que sei onde fica a cabeça de boi.
Peço que me sigam, é ali perto, tento me fazer compreender com sinais e falando um português nasalado, um estranho sotaque que inventei na hora, nem sei ao certo o porquê, talvez tentando misturar francês com castelhano.
Nunca senti tanta vontade de saber falar francês.
Eu queria contar ao casal de turista que exatamente ali, onde hoje está erguido o monumento em ferro de uma cabeça de boi, nos primórdios dos tempos da minha cidade, antes mesmo das construções dos quartéis, era um matadouro de encontro das boiadas que vinham das fazendas.
Para marcar o lugar, entre as bicas d’água e trilheiros da mata, alguém teve a idéia de erguer uma cabeça de boi na ponta de uma árvore gigantesca, que dava para ser vista de longe, que do resto a poeira da boiada ajudava, não tinha como errar.
O lugar exala história, faz meus olhos atravessar o tempo, enxergar os homens de chapéu de abas largas apeando dos cavalos, a camisa surrada, as calças revestidas por cinturão de couro, o grito da boiada, o cheiro misturado de bosta de vaca com grama molhada e o longo som do berrante.
Os franceses não entendem o estranho brilho que escapa do meu rosto.
Na despedida, apenas um aceno.
Tive vontade de falar o nome de uma canção francesa que sei pronunciar sem erros, “Ne me quitte pass”, só pra impressionar, mas não tive coragem, com medo que a tradução, que desconheço, fosse deselegante ou algo assim.
A noite caí de vez enquanto corto caminho pelas casas de militares, absorto entre os católicos que caminham rumo à catedral do Perpétuo Socorro, lugar sagrado no qual oram todas as quartas-feiras.
Na cabeça outra canção francesa ganha vida, sigo cantando baixinho
“j´avais dessiné, sur Le sable, son doux visage, qui me souriait…”