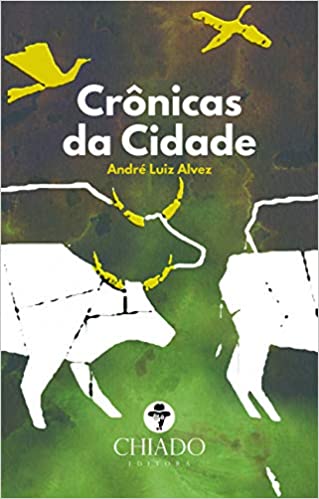Reflexos sobre a solidão
Escrever é um ato triste, solitário e muitas vezes doloroso.
Mas então porque raios você escreve? Perguntará alguém insensível e eu lhe responderei que escrevo porque senão alucino de vez.
Escrever é doloroso porque requer solidão.
No entanto, em alguns casos (aqui me encaixo) não há nada mais libertário do que escrever.
Eu só me sinto solitário quando estou escrevendo, ou quando acordo no meio da noite e não consigo mais pegar no sono, como na noite passada, que de repente acordei e o vazio da noite espalhou-se quarto adentro.
Virei de um lado para o outro e nada do sono retornar e me atingir feito um caminhão desgovernado, como de costume.
A esposa e os filhos dormiam.
É gostoso ouvir o ronco alheio.
Esfreguei meus olhos alucinadamente, estranhando a ardência do cansaço e a ausência de sono – deve ser fome – imaginei e já dei dois passos até a porta, num esforço tremendo para não fazer barulho.
Ao sair do quarto, dei de frente com o silêncio, senti o colossal clamor do frio das paredes e percebi o quão dolorosa é a solidão.
Como será que algumas pessoas conseguem viver sozinhas?
Caminhei coçando os dedos no assoalho até me dar de frente com a geladeira, que abri e fechei em segundos, sem perceber.
Girei os passos até o sofá da sala e a solidão caminhou junto.
Um pedaço de papel e uma caneta eram tudo o que eu precisava, mas o papel estava amarrotado e a tinta da caneta falhando.
Ainda assim, risquei algumas palavras e até tentei sorrir ao constatar que mesmo tendo a solidão como tema, definitivamente não sei fazer poesia.
Mas escrevi frases em esperanto, eu alucino quando escrevo.
Um blues cairia bem se eu soubesse onde guardei os fones de ouvidos.
Quando tudo está tão quieto, as paredes asfixiam de um tanto que reneguei os momentos que reclamei dos barulhos da vida.
Lembrei-me de uma frase impactante que li nas redes sociais, dessas que não citam o nome do autor: “Às vezes se fica tanto tempo sozinho, que a solidão deixa de ser ausência e passa a ser companhia”.
Conheci uma senhora que para fugir da solidão, criava cachorros e gatos.
Senti vontade de acordar todos de casa, mas que culpa eles têm se não consigo pegar no sono e as paredes da casa me asfixiam?
Resolvi fazer um café, mas não sei absolutamente nada da nossa cozinha e a chaleira apita quando a água ferve.
Pelas frestas da porta e nos vãos da janela, o dia sequer ameaçava clarear e eu contava aflito o passar dos ponteiros do relógio, um minuto apenas, mas que demorou uma eternidade.
Perdido em tantos pensamentos, acho que cochilei um tantinho, tomado pela felicidade ao abrir os olhos, soprados pelo despertador, que finalmente tocou trazendo aos poucos os movimentos da rua, o latido do cachorro, o ronco de um avião cruzando os céus e logo meus olhos cansados se deram com os rostos da minha mulher e dos meus filhos desfilando à minha frente, tapando enfim o silêncio das paredes, anunciando um novo dia, desenhando no meu rosto riscos de felicidades.
Sou um alucinado escritor que abomina a solidão.