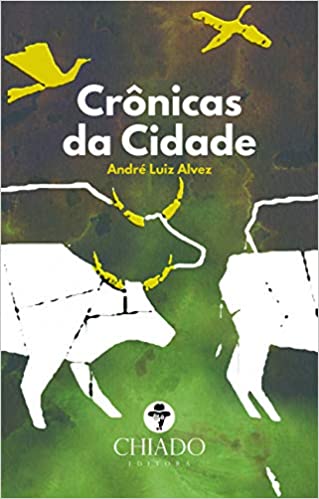Resenha – O santo de cicatriz
O SANTO DE CICATRIZ, de André Luiz Alvez.
Marcelino Freire nos diz que quando vamos começar uma história a porta do inferno já deve estar aberta.
Acho que ele está com a razão, mas há excessões. Ao ler O Santo de Cicatriz, vi que a regra que Marcelino observou para contar bem uma história só atrapalharia a brilhante trama contada pelo escritor André Alvez, residente em Campo Grande MS.
André vai devagar, como o trem que sai da estação, ganha embalo ao ponto de parecer desgovernado, atinge a velocidade máxima, abre as portas do inferno na pancada, sai dele e diminui a marcha para entregar o leitor são e salvo na estação de destino.
A comparação não é à toa: André usa bem o antigo trem do Pantanal para mostrar sobre o que fala, a vida é uma passagem, todos tem o seu destino, há encontros e desencontros, felizes e infelizes.
A história do santo de cicatriz acontece no Pantanal sul-matogrossense, nas fazendas. O santo de cicatriz sai de São Paulo para tentar fazer fortuna em Aquidauana, a começar por um emprego como veterinário. Ao chegar na cidade, começa a sua Paixão…
Posso dizer que se trata de uma história solar, de um mito, do homem bom que tem o destino de Cruz. Posso dizer que é uma história universal, que fala sobre assuntos universais: amor, ódio, inveja, ciúmes, cobiça, fé. Posso dizer também que é uma história que parte do particular para o geral, do regionalismo para o universal, como João Guimarães Rosa, como Gabriel Garcia Marquez.
Temos um bom romancista vivendo em nossa cidade. Rico em detalhes, dono do ritmo, André vai nos contando um baita trem de história, uma baita viagem de vida e morte, de alegria e tristeza, de bênçãos e maldições, de acidentes e tragédias. Há muito tempo não lia uma história tão fisgante, tão cheia de mistérios e de mística, cheia de verdades.
Parabéns André. Você gosta de parafrasear o poeta espanhol Antônio Machado, quando diz que o caminho se faz caminhando. Agora entendo porque você gosta tanto desta frase: porque você a vive. Com certeza você irá longe, com certeza você tem e terá muito para ensinar.
Glauber da Rocha
Professor, escritor.