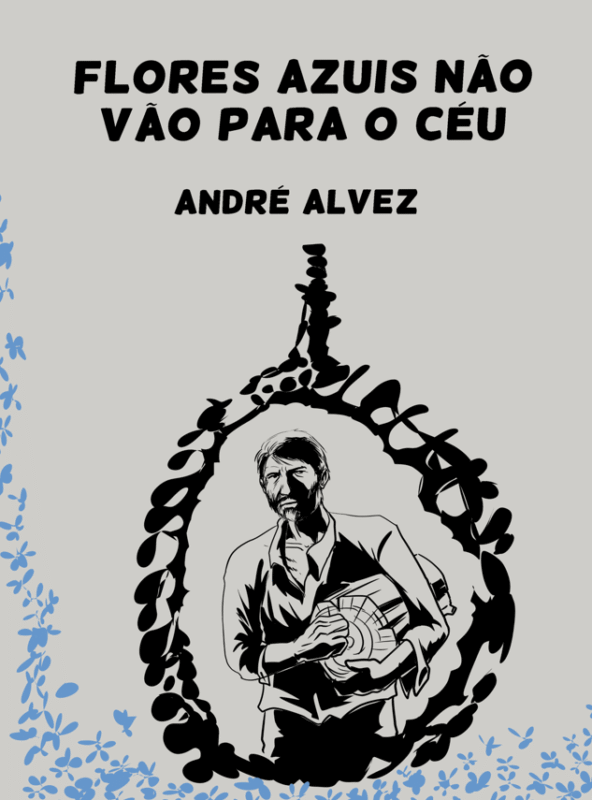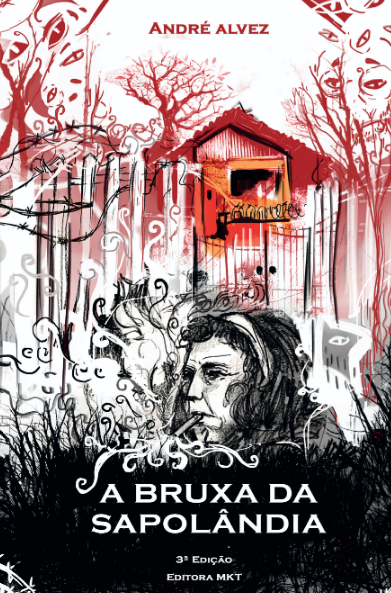Estou ficando velho demais
Todo fim de ano essa ideia me ocorre: estou ficando velho demais. Ontem era janeiro, quando fui ver, já é dezembro novamente.
E a estrada vai ficando mais curta. Até onde? Nem quero imaginar. A rotina e os estalos todas as vezes que me estico, andam me transformando num sujeito resmungão, enxergando defeito em tudo e simplesmente não suportando algumas conversas.
Tenho feito poucos amigos, a idade avança e a desconfiança caminha junto.
Deixei crescer um fiapo grisalho de fios na barba, bem na ponta do queixo, só para me ajudar quando resolvo pensar e então mergulho num coçar reflexivo.
Tenho controlado a saúde, mas a custo caro.
É muito triste reconhecer que açúcar e um veneno. Delicioso veneno.
Remédio bom é remédio amargo, diziam os antigos. Triste verdade. E o chocolate foi o primeiro a cair da prateleira.
Mantenho a custos o nível bom do colesterol, a bebida já não cai tão bem, a ressaca é certa e sinto a ausência dos antigos companheiros. Muitas vezes, a falta do cigarro me causa a angústia da saudade.
Mas a vida sem açúcar chega a ser cruel.
Um amigo me contou sobre alguns despistes, por exemplo – ele disse – existe chocolate sem açúcar.
“É um pouco amargo, mas muito gostoso”.
Resolvido o problema do açúcar, fiquei a imaginar a chateação das coisas repetitivas. Rotina é sinônimo de tédio, só perde para a solidão.
Acho que vou aprender a tocar Saxofone e abalar a quietude dessa rotina.
Minha mulher passa por perto, levando no colo o nosso neto Tom. Coço o fiapo da barba: quem diria, a menina linda dos cabelos longos, agora já é vovó. Eu também sou vovô! Preciso me acostumar com essa ideia.
O fiapo quase fala: é hora de planejar antigas viagens. Paris por causa dos museus, Amsterdam porque quero ver o esconderijo onde Anne Frank escreveu aquele livro maravilhoso; Inglaterra porque os Beatles nasceram lá e não posso morrer sem pisar no Cavern Club.
Embora nessa vida ligeira eu ainda não tenha aprendido a cantar, talvez, num ato extremo, “Here, there and everywhere’ escape da minha garganta.
Puxei o fiapo, imaginei a cena. Acho que me daria melhor tocando saxofone.
Talvez eu troque de carro, o atual, tão acostumado à minha rotina, já sabe todos os caminhos e se tornou um chato reclamão feito eu. O meu vizinho tem um opala. Eu sempre quis ter um opala, mas não consigo sentir inveja do vizinho. Ele passa por aqui, acelerando o motor, deixando a profunda impressão que só tem trinta anos e parece um velho.
Quanto será que custa um saxofone?
Minhas vistas andam cansadas, mas a mente ferve.
É tão claro agora o jovem estúpido que fui. Ás vezes me recordo antigas atitudes e sinto vergonha. Se eu pudesse voltar no tempo… Puxo o fiapo: o jeito é perdoar aquele jovem besta, naqueles tempos eu não sabia o que hoje sei.
Tenho consulta logo mais. São tantos médicos: ortopedista, cardiologista, oftalmo, endócrino.
Ir ao médico se tornou outra rotina chata.
Já confundi os nomes, os rostos, as receitas, os conselhos.
Um deles me olha de um jeito estranho, ou então o estranho sou eu que sempre soube que ele também é geriatra.
Tenho uma leve bronca do endócrino: foi ele, o malvado, que cortou o açúcar.
Experimentei chocolate amargo e não vou repetir a dose. O gosto horrível permanece na minha boca, levando embora, num caminhão de pudim, a doçura da vida que passou.
Dane-se, mais tarde, vou comer pudim.
Remédio bom é remédio amargo. Mas cortar o açúcar beira à crueldade.
Embora resmungão e me sentindo velho demais, não pretendo fugir dos meus sonhos. Então não se assuste se brevemente me encontrar por ai, dirigindo um opala, ou num bar de esquina, tocando saxofone e cantando versos sorrateiros. Em meio à canção, direi, num tom melodioso, e talvez você perceba, como a vida passa ligeiro.