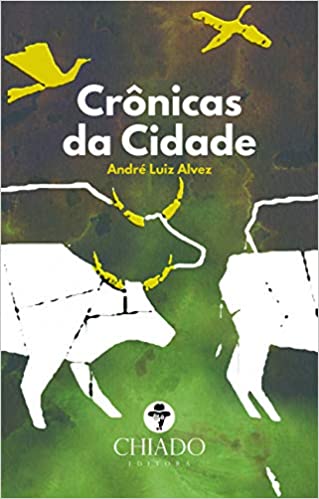4 de julho de 2020
Recentemente, numa reportagem, fiquei sabendo que guardamos a nossa memória na parte frontal do cérebro, uma região chamada hipocampo.
Gancho feito, entro no assunto dessa crônica.
Quem é capaz de fazer tratamento odontológico em plena pandemia?
No início do ano, resolvi fazer tratamento dentário em um desses consultórios especializados. Cada consulta, um dentista diferente. O lugar é extremamente limpo e organizado, mas sinto como se estivesse entrando no consultório do doutor Frankenstein.
A sala, além de toda a parafernália odontológica, possuía, de frente à cadeira do dentista, uma Tevê.
Achei estranho, mas não disse nada.
O dentista se mostra uma espécie de Deus, todo de branco, máscara cobrindo parte do rosto, cabelos grisalhos, um Richard Gere dos anos noventa.
A auxiliar sorriu ao me apontar a cadeira. Devolvi o sorriso e tentei me ajeitar.
– Fique tranqüilo, não vai doer nada – disse o dentista – abra a boca, por gentileza.
Sempre achei que uma dose de uísque antes de sentar naquela cadeira devia ser obrigatória.
– Vamos fazer o canal do molar inferior direito, ok?
– Sim, sem problemas. – Digo, tentando disfarçar o medo. O dente nem estava doendo, qual será o tal molar inferior direito? Precisa mesmo mexer em quem está quieto?
E no instante seguinte, entre o dente a ser tratado, doutor Gere ajeitou um punhado de algodão de cada lado.
E aí que entra o hipocampo e seu arsenal de recordações.
Faço uso dele para me desligar do sofrimento. Pensar em algo bom enquanto o mundo acaba. Inicio um exercício, permito o silêncio me envolver, fecho os olhos e escuto uma música orquestrada. Música orquestrada me acalma desde menino e o pensamento se mistura a uma porção de questionamentos: o oboé é difícil de aprender? Algum violino se encaixa nos meus ombros caídos? Como é o nome daquela orquestra que desapareceu durante um voo em meio a uma tempestade?
O dentista se move ligeiro na cadeira. Uma sede danada me invade.
– Ummm, canal profundo. Vamos demorar um pouco para terminar.
Canal demorado… Significa que o cirurgião dentista irá extrair um nervo de dentro do meu dente e vai demorar a fazê-lo. Para isso ele vai usar anestesia, um tipo de injeção dentro da boca, dói bastante, embora o dentista vá dizer que será apenas uma “agulhadazinha” de nada.
Tento buscar a paz das orquestras. Glenn Miller, o nome do maestro desaparecido no desastre aéreo, surge na minha mente. Aviões caindo e tratamento de canal dentário, não é uma boa mistura. Reviro os olhos, jogo fora a tragédia do maestro.
– Vou anestesiar e você sentirá uma agulhadazinha de nada – ele diz, como se tivesse escutado o meu pensamento –.
A tal agulhadazinha dói uma barbaridade, mas não posso falar nada, a boca aberta, repleta de algodão, se transformando aos poucos num daqueles círculos do inferno de Dante.
– A anistia já fez efeito. Vamos começar… – diz o doutor bonitão e eu me lembro que Lúcifer também é bonito –.
Ele dá as costas para mim na cadeira giratória, começa a apanhar um monte de ferramentas, clesh, sclhesh, plesht.Num momento de total desatino, penso pegar nas mãos da moça auxiliar do bonitão, um gesto de pedido de ajuda, mas ela não nota o meu desespero, permanece impávida, o rosto sereno atrás de uma máscara bege.
Ele gira a cadeira num supetão e fica de frente para mim.
– Fica calmo, não vai doer nada – quando alguém diz isso, geralmente está mentindo –
E como não existe nada ruim que não possa ficar péssimo, a ajudante do dentista resolve ligar a tevê e nela surgem sons e imagens de um show ao vivo gravado em DVD.
Assombrado, percebo que é o de uma dupla sertaneja, Maiara e Marinara, algo assim.
Eu odeio música sertaneja. Ao vivo, então…
Pronto, o inferno está completo. A boca anestesiada parece uma coxinha de frango frito.
O dentista pega algo parecido a um anzol. Pernas tremem e ele nada percebe. Depois retira algo que imagino ser a tampa do dente. O tremor nas pernas aumenta, a voz da dupla sertaneja – eu realmente detesto música sertaneja – se funde ao barulho do motorzinho, ziiiiim, zim, ziiiiiiiim, o punhado de algodão em cada lado da gengiva se transforma na frase de Brecht: “Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem”.
Um pedido de socorro na mente e o hipocampo, velho camarada, consegue novamente me trazer imagens das boas lembranças:
Eu tinha quinze anos quando isso aconteceu. Ah, quinze anos, um rapaz magro, dos olhos brilhantes, apaixonado pela colega japonesa da escola, pela filha da vizinha e também pela moça mais velha, garçonete do bar do português.
Eu amava as três ao mesmo tempo, sem lhes dizer palavras, amava com os olhos, com o sopro do silêncio fazendo bater o coração juvenil.
Como isso foi possível? Talvez o hipocampo tenha escondido algumas verdades que não desejo recordar.
Longe demais, hipocampo! Vamos aos meus vinte e poucos anos, barzinho com os amigos, muita cerveja e sem hora para ir embora.
Zim, zim, ziiiiim, romck, romck, o barulho na minha boca espanta os bons pensamentos, confundem o hipocampo, aciona lembranças ruins, os cabelos começaram a cair aos dezoito, precisamos reagir hipocampo! E a imagem boa logo vem, final de semana na casa de amigos, no som da vitrola Tetê e o lírio selvagem, Belchior, Djavan, a ideia repentina do amigo Ronaldo, inspirado por uma imensa lua cheia: fazer serenata para a namora Amanda. E lá fomos nós, o carinha de óculos, que esqueci o nome, dedilhando o violão, ao lado dele nossa amiga cantora, aquela sim, cantava tão bem, tinha a voz da Zizi Possi, onde será que ela foi morar? Minha função era carregar o abacaxi recheado de pinga e… zim ziiiiimmmm, ronck, ronck, estrondos na boca.Foco no luar, hipocampo, imploro e ele me obedece, fazendo surgir a cena mais bela: a namorada do amigo abre a janela e chora de emoção, mas o pai fica zangado, onde já se viu, incomodar a vizinhança numa hora dessas? Dona Maria, a madrasta da moça, passa o pano, se acalme Osvaldo, eles são jovens, você já fez serenata para mim? Não, claro que não, mas não ligo, talvez um dia, mas quero com harpa e sanfona, e todos rimos de um tanto, nem percebi o abacaxi escapando das minhas mãos…. zum, zim, romck, cuidado com a língua! Hipocampo atrapalhado novamente, me envia antigas notícias ruins, como vou fazer para passar em matemática, física e química? Lembranças boas, por favor, hipocampo! O fim de semana no Cachoeirão, trilhos nos levando rumo ao Pantanal, os amigos no restaurante do trem, cerveja gelada, bife a cavalo, a moça ligeiramente estrábica está olhando para mim ou é impressão?Mais um gole de cerveja, um risinho basta por enquanto, depois crio coragem para perguntar, será que ela vai descer na estação Cachoeirão?
Na tevê, o mundo despenca: “Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem” cantam Maiara e a irmã que nunca lembro o nome. De repente, o dentista finalmente resolve retirar o maldito punhado de algodão e esguichar água na minha boca.
– Cospe – ele diz.
Alívio, olhos lacrimejando, vontade louca de me levantar da maldita cadeira. Mas ainda não terminou, ele torna e encaixar algodão entre o dente:
– Coloque a língua para o outro lado – ordena. Obedeço e respiro fundo. Na tela da tevê, as irmãs sacolejam o corpo, é impressionante como elas são queridas pelo público.
“O culpado de tudo é os Hômeeeeeee, nois mué temos razãoooooo!
Ò céus, lá vem o motorzinho…Socorro hipocampo!
Fecho os olhos novamente e vou lá para o dia do nosso casamento.
A Graziela estava linda, e eu…provavelmente também.
Padre Antônio faz um sermão belíssimo, que dure para sempre, disse ao final, num belo sorriso. Sinto vontade de voltar lá e lhe contar dos quase trinta anos passados, os detalhes das muitas lutas e conquistas, estamos juntos, temos dois filhos, um neto e eu virei escritor, mas será que o padre Antônio se lembra de nós?A auxiliar do dentista traz um objeto pelas mãos e o entrega ao doutor.
– Esse não serve, põe broca maior.
Broca maior? Medo, angústia. Maiara e Marinalva dançam e cantam:
“Se ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso, quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eeeeeu”. Chico César, eu concordo contigo, odeio rodeio!Lembranças boas, hipocampo, vamos lá, você consegue, manda alguma recordação feliz, senão vou entortar a língua e jogar fora o maldito algodão.
O querido hipocampo se abre, me envia imagens de bichos, direto da janela do trem, passando Miranda, na curva da mata, um tamanduá abraçado a um monte de cupim.
Até os caramujos do Manoel me acenam, eles sabem do meu sofrimento, ziiiiim, zict, zonk, stronk. Enfim, Corumbá. Que cidade linda, meu Deus! O hipocampo se rebela, tenta me questionar: porque está falando em Deus se você é ateu? É o medo do dentista, o algodão, a língua que não quer parar no céu da boca, a dança e a voz da Maiara e da irmã?
Eu não sou ateu, sou deísta!
Ele não liga, prossegue me provocando: quem é Maiara, quem é Marinara? Ou será Marialva? Consegue me irritar com tantas perguntas, resolvo retrucar: você sabia que hipocampo significa cavalo do diabo?
Maiara e a irmã entram de sola na discussão:
“Cê ta roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço dela, os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela, libera ela, libera ela, libera elaaaaaa”.O dentista enfim para de cutucar o meu dente e ergue a cadeira.
– Pode cuspir.
Fim do suplício.
Durou quase quarenta minutos a tortura.
Não volto mais, dane-se se já paguei o tratamento.
A auxiliar do dentista sorri. Ele me encara.
– Deu um trabalhinho, viu? Estava feia a coisa. Vou marcar o retorno para semana que vem.
Paro e penso: tenho que aguentar. Falta só mais um canal. Sou forte e tenho ao meu lado as lembranças guardadas no hipocampo.
– Tudo bem, semana que vem. Mas posso fazer uma sugestão, doutor?
– Claro que sim.
– O senhor não teria o DVD do Ira ou alguma coisa dos Titãs?
Ele me encara de olhos bem abertos, espantado:
– Você não gosta da Maiara e Maraisa?
Enfim, descubro o nome correto da dupla.
– Nem um pouco.
Ele sorri, um tanto sem jeito.
– Era só falar, temos vários DVDs. Tem muita gente que gosta delas e pensei que você fosse mais um fã da dupla.
– Não gosto, não. Se não fosse o meu hipocampo, teria desistido.
– Seu hipo o quê?
– Nada não, doutor, nada não. Até semana que vem!
Abri a porta da saída e senti o alívio dos desamarrados, um daqueles respiros profundos, a brisa gostosa batendo no rosto, o sentimento do dever cumprido.Sou até capaz de ouvir novamente Maiara e Maraisa.
Desligo o hipocampo. Semana que vem tem mais.